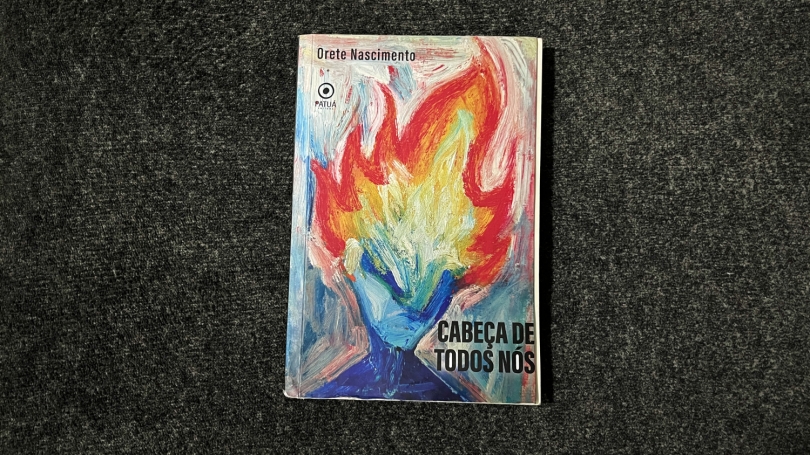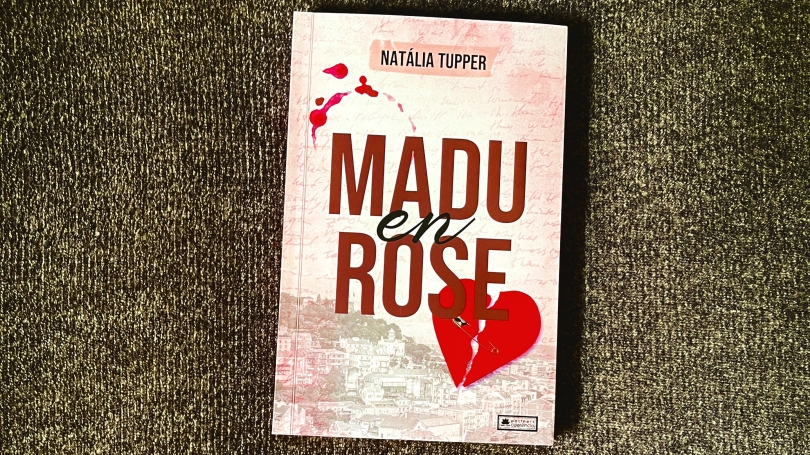Quando publiquei uma foto no lançamento de “Duas mães e uma filha”, descrevi Maíra Donnici como uma das pessoas mais corajosas que conheço. Tinha absoluta certeza de que o livro comprovaria isto. E, sim, coragem é um substantivo que veste Maíra de forma tão perfeita quanto o vermelho escolhido para momentos especiais.
“Duas mães e uma filha” é o registro das maternidades de Maíra e Inês, mães corujas e orgulhosas de Antonia. Obviamente, o amor transborda em cada página, em cada frase, em cada vírgula. Só que Maíra vai muito além (corajosa, lembra?): expõe seus medos, compartilha suas angústias, escancara e demole preconceitos (dela e dos outros). Cercada de privilégios em um mundo cor de rosa? Nada disso: é vermelho em todos os tons.
Como uma história tão particular pode ser tão cativante? A coragem de se abrir com o leitor explica parte considerável (sendo humanos, nós nos reconhecemos na força e nas fragilidades dos outros), mas não tudo. Acontece que Maíra não apenas é corajosa o bastante para compartilhar – com grande generosidade – detalhes íntimos, como o faz com uma clareza singular e uma escrita potente. Depois de devorar as páginas de “Duas mães e uma filha”, eu duvido que o leitor não queira fazer parte desta família.
Imagem: capa de “Duas mães e uma filha”