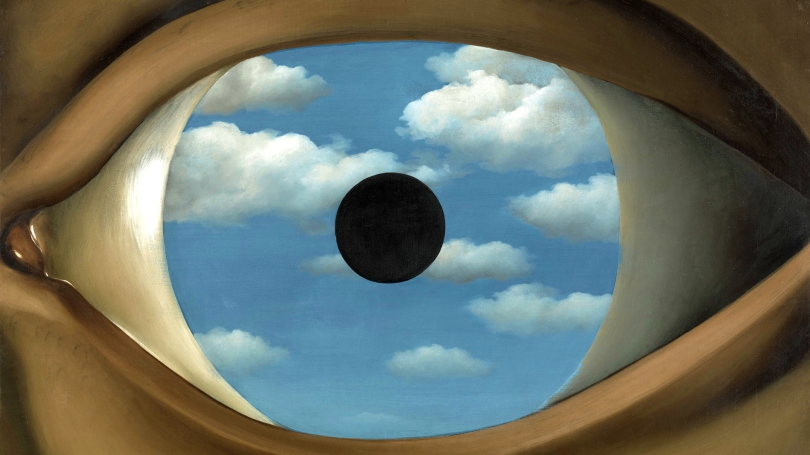Limpava o armário quando encontrei cadernos da escola e da faculdade. Não sei por que ainda os guardava, dado meu desapego por memórias materiais – prefiro as que ficam em algum canto do cérebro – e a inutilidade deles como fontes de consulta. Anotações, esquemas, desenhos e direcionamentos tornaram-se obsoletos. Com a internet na palma da mão, poucos cliques resolvem um problema.
Antes de jogar tudo fora e liberar espaço no armário, resolvi folhear as páginas amareladas pelo tempo. Não fui transportado para as carteiras escolares, a nuvem de giz pairando no ar ou coisa que o valha. Tinha lembranças, sim, mas não era nostalgia. Saudade eu sinto de pessoas, não de momentos. E os colegas de escola que me importava conservar são meus amigos até hoje.
Notei um fato curioso: conforme o período letivo avançava, o volume de anotações diminuía. Março e abril ocupavam muito mais folhas do que o último bimestre. O colorido das canetas também rareava, até se limitar ao azul em novembro. Anos mais tarde, sem que houvesse uma explicação racional, passei a usar apenas caneta preta.
O lado cartesiano de minha mente buscou uma explicação para o preenchimento desequilibrado das páginas. Como não é razoável supor que os professores ensinassem menos com o transcorrer do ano, intuí que a resposta vinha do meu desempenho estudantil. Sempre fui um aluno responsável, prestava atenção às aulas, fazia os deveres de casa e tirava boas notas. Em geral, no terceiro bimestre, já tinha obtido a pontuação necessária para ser aprovado em todas as disciplinas. Por isso, podia me dar ao luxo de desacelerar e antecipar as férias em alguma medida.
O que mais me chamou a atenção nos escritos antigos, porém, foi minha letra. Nos anos iniciais, era clara a influência dos cadernos de caligrafia que fui obrigado a fazer: traços plasticamente redondos, palavras perfeitamente alinhadas, espaçamentos absolutamente simétricos. Era mais um desenho do que uma escrita.
Aos poucos, o equilíbrio de causar orgulho aos alfabetizadores se dobrou à minha personalidade. Uma a uma, as letras cursivas deram lugar às letras de forma, começando pelas vogais, passando pelas consoantes mais abauladas, até completar o alfabeto. Depois, aboli as minúsculas. Um pequeno parênteses: estranhamente, escrevendo ao computador ou ao celular de maneira informal, dá-se o oposto e aposento as maiúsculas.
Desde o fim da faculdade, a escrita manual tem sido cada vez mais rara. Bilhetes viram mensagens de texto, lembretes estão na agenda do celular (assim como listas de compras) e não me recordo da última vez em que precisei escrever uma carta de próprio punho. Nas poucas ocasiões em que pego uma caneta, fica evidente a degradação da caligrafia.
Reler o passado me despertou o desejo de voltar a escrever à mão. Talvez o faça, agora que liberei espaço para novos cadernos no armário.
Imagem: A paixão da criação, de Leonid Pasternak (1862-1945)